O selo que cobra para indicar produtos como não ultraprocessados

Prateleiras de supermercado
Nenhuma marca quer ver seus produtos classificados como ultraprocessados. O temor é enfrentar possíveis regulações mais duras e a rejeição dos consumidores. Isso vale inclusive para empresas que se posicionam no mercado de wellness (em inglês, “bem-estar”), mas cujos produtos acabam entrando na mesma categoria.
Para se ter ideia, um levantamento realizado nos Estados Unidos mostra que mais de sete em cada dez pessoas (72%) tentam evitar o consumo de produtos do tipo – e essa rejeição segue alta mesmo entre quem sabe pouco sobre o assunto (57%).
O estudo, conduzido pela Linkage Research & Consulting a pedido da Food Integrity Collective, organização por trás do Non-GMO Project (que informa a ausência de ingredientes transgênicos em alimentos e bebidas embalados), acompanhou o lançamento de uma nova certificação. Apresentada ao público em 21 de janeiro, ela se chama Non-UPF Verified.
O selo define “critérios objetivos” e “baseados em evidências” para reconhecer alimentos que evitam o processamento industrial excessivo e o uso de aditivos artificiais.
“Trata-se de reconciliar uma falsa divisão entre ‘comida de verdade’ e comida industrializada”, afirmou Megan Westgate, diretora-executiva e fundadora do Non-GMO Project, em nota à imprensa.
Essa formulação costuma ressoar entre plateias formadas por compradores e fornecedores de ingredientes. O discurso aparece sobretudo em feiras voltadas aos mercados de suplementos, bebidas, alimentos funcionais, cuidados pessoais e nutrição esportiva. O SupplySide West & Food Ingredients North America, por exemplo, ocupa lugar cativo nesse circuito.
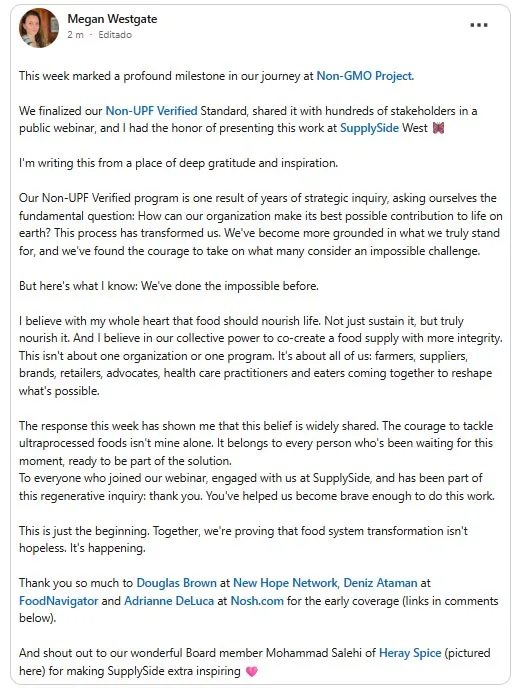
Em publicação no Linkedin, Megan Westgate, idealizadora do selo que alega certificar produtos não ultraprocessados, comemora o lançamento do programa de certificação
Embora a verificação do selo ainda estivesse em fase experimental até o ano passado, a divulgação avançou em ritmo bem mais acelerado. Em entrevista ao portal americano Green Queen, a empreendedora informou que mais de 200 marcas manifestaram interesse em aderir à certificação em 2026, o que classificou como “um ímpeto sem precedentes da indústria para enfrentar os ultraprocessados”.
Há lojas especializadas em açafrão (sim, a especiaria), snacks de café da manhã, água “saborizada”, leites vegetais, pães integrais, suplementos alimentares em gel, compostos proteicos. Tudo muito conveniente. E, claro, devidamente embalado.

Marcas participantes do programa piloto que desenvolveu o selo, reunindo 16 empresas, entre elas várias plant-based
Não há, até o momento, informações públicas sobre os custos do rótulo. Mas a primeira empreitada da organização no âmbito das certificações voluntárias dá uma pista de como as coisas costumam funcionar.
O projeto foi criado em 2007, a partir da iniciativa de duas lojas de produtos naturais: a The Natural Grocery Company, em Berkeley (Califórnia), e a The Big Carrot Natural Food Market, em Toronto (Ontário). Ambas já vinham testando formas de educar o cliente sobre organismos geneticamente modificados (OGMs). Da convergência nasceu a ideia de uma definição padronizada para produtos livres de OGMs na indústria alimentícia da América do Norte.
Diz-se que o Non-GMO Project Verified é hoje o que mais cresce no setor de produtos naturais, representando cerca de US$ 48,9 bilhões em vendas anuais e mais de 66 mil produtos com fórmulas exclusivas. “O Butterfly é o selo mais confiável da América do Norte para indicar a ausência de transgênicos e o mais difundido depois do orgânico do USDA”, afirmam.
O custo da certificação varia conforme o número de produtos e a presença de ingredientes de alto risco, como milho ou soja, que exigem verificação adicional. Segundo as próprias idealizadoras, a avaliação é feita por quatro administradoras técnicas independentes, cada uma com sua própria tabela de preços.
Desde agosto de 2025, a taxa padrão é de US$ 115 por produto, podendo cair para US$ 50 em alguns casos (como carnes) e US$ 35 para empresas de sementes. Também há descontos para serviços combinados.
Uma curiosidade: em seu FAQ, o Non-GMO Project adverte que “alegações autodeclaradas de não transgenia representam um risco reputacional para muitas empresas”. Ou seja: quem não adota esse selo específico pode ter a credibilidade questionada – alerta que mais parece um tipo estranho de discurso de vendas do que um aviso amigo.
A mesma lógica se estende aos produtos que passam pelo mais alto grau de intervenção industrial. O selo Non-UPF Verified é apresentado como uma ferramenta científica e de transparência. Mas, ao fazê-lo, também cria um novo nicho de mercado: o da “pureza certificada”.
Empresas pagam para comunicar a ausência de determinados ingredientes ou processos. Nem sempre para alterar a forma como produzem, mas para tornar essa ausência visível. O selo passa a funcionar como um sinal de diferenciação, transformando aquilo que foi evitado em vantagem de mercado.
A verdade é que nunca foi tão lucrativo parecer saudável. Segundo projeção da Research & Market, o setor de nutrição funcional pode ultrapassar US$ 1 trilhão em 2026. No Brasil, o segmento já movimenta mais de R$ 15 bilhões por ano, superando o ritmo de crescimento do mercado convencional. A demanda é puxada por itens ricos em proteína, sem açúcar e sem lactose.
O que uma certificação é incapaz de fazer
Além de ser voluntário e pago, o Non-UFP Verified age sobre produtos individuais, não sobre o ambiente em que eles são produzidos e vendidos. Ele pode mudar a embalagem e o discurso, mas não mexe em fatores como preço, publicidade, distribuição, impostos ou subsídios – que são o que realmente define o que chega à mesa da maioria das pessoas. Selos do tipo também não têm força para barrar ninguém: se uma empresa não quiser aderir, segue vendendo normalmente. Já uma regra pública pode proibir, limitar ou taxar produtos problemáticos. Além disso, a certificação se dirige, sobretudo, a quem já dispõe de margem para escolher. Pressupõe um consumidor atento, informado e com poder de compra.
Dever do Estado
Lançada no Reino Unido em 18 de novembro de 2025, a série especial da revista Lancet sobre ultraprocessados, uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo, reinvindica de forma explícita a criação de políticas públicas para enfrentar, em escala global, os danos associados ao consumo desses produtos.
Uma das apostas é tirar a rotulagem do terreno da boa vontade e levá-la para o campo da obrigação. Essa defesa aparece no segundo artigo do especial, dedicado às estruturas que organizam a produção, a circulação e o consumo massivo de ultraprocessados.
Conforme o texto, “a viabilidade dessa abordagem poderia ser amplamente fortalecida se os órgãos reguladores de alimentos exigissem a declaração padronizada de substâncias alimentares e aditivos que funcionem como marcadores de AUPs”.
Hoje, os alertas se concentram em açúcar, sal e gordura. O que apaga outros traços do ultraprocessamento. Daí a recomendação de ampliar os critérios. Citam o México e a Argentina, que incluem edulcorantes não nutritivos e cafeína, e a Colômbia, que já adota alertas específicos para produtos com adoçantes artificiais.
No cenário ideal, dizem, a rotulagem avançaria para modelos mais restritivos. Inspirados nos produtos derivados do tabaco, esses formatos padronizados limitariam o uso de cores, logotipos e outros elementos de marketing, priorizando os alertas ao consumidor.
A reivindicação não é nova. Como mostrou o Joio, em 2003, o pesquisador Barry Popkin, professor da Universidade da Carolina do Norte (UNC), já defendia que ingredientes típicos dos ultraprocessados passassem a aparecer nos rótulos frontais.
O selo Non-UPF Verified parece cumprir um propósito análogo: dar ao consumidor um atalho interpretativo sobre o conteúdo do pacote. O sistema, porém, funciona por exclusão. Há uma lista de 293 ingredientes e, se qualquer um deles constar na fórmula, o produto se torna inelegível ao selo.
A rotulagem defendida pelos pesquisadores tem como objetivo identificar produtos ultraprocessados, explicitando a lógica que organiza sua produção e circulação. A certificação segue o caminho inverso. Em vez de expor o problema, chama atenção para produtos que escapam à regra e os transforma em distinção.
“Ao contrário de uma política pública ou de um instrumento regulatório, que ampliaria o acesso à informação sobre o que a população deveria evitar, ele funciona como uma credencial comercial para circular em certos canais de venda.”, afirma a nutricionista Ana Carolina Fernandes, vice-líder do Núcleo de Pesquisa de Nutrição em Produção de Refeições (Nuppre), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), referência nacional em pesquisas sobre rotulagem.
O que ela aponta é um deslocamento típico de sociedades que mercantilizam direitos. Aquilo que deveria ser garantido de forma coletiva – acesso regular, permanente e livre a alimentos de qualidade, suficientes, seguros e nutritivos – passa a ser distribuído por filtros de mercado. Em vez de ampliar o alcance, seleciona-se o público.
Enfrentar essas desigualdades é condição para que inclusive uma eventual regulação obrigatória produza efeitos reais. “Isso é especialmente importante em regiões marcadas por desertos e pântanos alimentares, onde comer melhor ainda não é uma escolha real.”
A NOVA não ficou velha
Não é que o selo dos gringos queira substituir a Classificação NOVA. Em nenhum momento seus criadores dizem isso. Ainda assim, é significativo que o parâmetro não dialogue com a principal referência existente. Se a NOVA interroga para que e para quem serve o processamento industrial de alimentos, o selo se limita a estabelecer como ele pode ser feito.
Sem citar a referência pioneira criada no Brasil – muitas vezes tratada com desconfiança no Norte Global, como observou a professora emérita da Universidade de Nova York Marion Nestle em entrevista recente –, a certificação cria um sistema próprio. Significa que a formulação industrial segue existindo como tal, desde que se enquadre no manual do certificado.
Encontre o erro
A NOVA pergunta:
“Isso é uma formulação industrial feita para imitar comida?”
Se sim, tende a cair no Grupo 4 – mesmo que tenha vitaminas, fibras ou menos açúcar.
O selo pergunta:
“Quais processos foram usados? Quanto deles? Quais aditivos entraram? Quanto açúcar ficou?”
Ele aceita certa dose de engenharia, desde que fique dentro de limites técnicos.
Em termos de filosofia da ciência, isso reflete duas formas de representar e categorizar a realidade. A NOVA busca uma classificação diagnóstica, que captura o papel social e funcional dos produtos no sistema alimentar. O selo cria um sistema normativo operacional, que mede atributos técnicos e cria conformidade mercadológica.
Assine nossa newsletter diária
Gratuita, com os fatos mais importantes do dia para você
Outro ponto a ser observado: o atestado de qualidade socioambiental organiza os processamentos por tipo: biológicos, químicos, mecânicos, térmicos e outros. Dentro de cada grupo, os classifica como proibidos, condicionais ou permitidos. Para a discussão aqui, o que mais importa são os condicionais, aceitos apenas até certo limite. São eles:
- Hidrólise enzimática, ácida ou alcalina: controversa porque desmonta a matriz do alimento. Transforma proteínas, amidos e gorduras em fragmentos de rápida absorção, ligados a picos glicêmicos e menor saciedade.
- Refino de óleos em alta temperatura + branqueamento + desodorização: juntas, as etapas produzem óleos baratos, neutros e ultraestáveis. Isso facilita o uso massivo.
- Branqueamento químico de óleos: remove pigmentos e impurezas. Não é considerado tóxico quando feito dentro das normas. Mas faz parte de um processo que transforma óleos brutos em matérias-primas ultrarrefinadas.
- Desodorização a vácuo: ajuda a tornar comestíveis óleos de baixa qualidade inicial.
- Recristalização de açúcares isolados: serve para obter açúcares muito puros ou com textura específica. Favorece produtos com alto teor de açúcar livre, ligados a obesidade, diabetes e cárie.
- Fermentação industrial de ingredientes muito modificados: serve para criar aromas, espessantes e proteínas isoladas que deixam a comida cada vez menos reconhecível.
Ingredientes submetidos a esses processos não podem ultrapassar 30% do peso ajustado do produto. O mesmo vale para o processamento final. Métodos condicionais só podem ser usados em até 30% da fórmula. Se por um lado isso cria balizadores, também permite criar novos produtos para “passar na prova”. E algo perto de um terço, pode-se argumentar, não é um limite tão rigoroso assim.
O problema, porém, vai além do desenho da regra. Ana Carolina questiona a própria premissa de que percentuais fixos tenham, por si só, significado biológico: “O que parece pouco ou muito não pode ser medido pela matemática.” E aponta a lacuna de evidência: “Quem disse que isso vai ser saudável no final? Que estudo comprova isso?”
Por que isso importa?
Em uma publicação no Instagram, a Non-UPF Verified arrisca um palpite sobre o futuro próximo. Em um carrossel de “previsões para comida e dieta em 2026”, afirma que “as marcas vão iniciar reformulações em resposta à demanda dos consumidores”.
Ver essa foto no Instagram
A aposta é que isso vire tendência. “Até marcas grandes e tradicionais já começaram a mudar suas fórmulas para oferecer versões ‘melhores para você’ de produtos antigos”, diz o texto.
Novamente, a ênfase recai sobre a engenharia fina, como se o problema pudesse ser resolvido com pequenos ajustes em produtos concebidos, desde a origem, para enganar o apetite.
A sombra do passado
Antes do Non-UPF Verified, já havia outro selo disputando esse território. Ele também nasceu com a missão de identificar, nas prateleiras, os produtos que não seriam ultraprocessados. Segundo o próprio Non-UPF Program, a marca Non-UPF Certification foi registrada em junho de 2024 e chegou ao mercado em dezembro do mesmo ano, apresentada como a primeira certificação desse tipo nos EUA.
A proposta combina três frentes: facilitar a escolha do consumidor, dar mais visibilidade à composição e à qualidade dos produtos e, claro, induzir as empresas a ampliar suas linhas. “Ao criar um selo de certificação confiável, os consumidores podem comprar com mais segurança e apoiar marcas comprometidas em reduzir os ultraprocessados no mercado”, respondeu em comunicado à imprensa a dietista Melissa Halas, fundadora do Non-UPF Program. “Falta fiscalização governamental e transparência sobre os alimentos que consumimos, e muitos aditivos não foram testados adequadamente quanto à segurança”, acrescentou.
O Verified também justifica sua atuação pela alegada incapacidade do Estado. E, do mesmo jeito, a alternativa escolhida não foi pressionar por mecanismos de controle mais robustos. Foi envolver a própria indústria na definição dos critérios de um selo voluntário.
Em resposta à reportagem, a assessoria do Non-UPF Verified disse que a participação das empresas não lhes confere poder decisório. Ainda assim, admitiu que um grupo de marcas piloto participou da elaboração inicial dos requisitos, num processo descrito como “necessário para garantir a viabilidade técnica do programa”.
É pedir que quem prosperou com o incêndio também comande o combate às chamas. Como, aliás, já aconteceu antes.
Em agosto de 2009, um tique verde começou a pipocar nas embalagens de ultraprocessados nos Estados Unidos, prometendo apontar escolhas “mais saudáveis”. O sistema foi criado com dinheiro de 14 mastodontes do setor – entre elas Kraft, PepsiCo, Kellogg, ConAgra Foods e Unilever – ao custo de US$ 1,47 milhão.
Para estampar o Smart Choices (algo como “escolhas inteligentes”), os produtos precisavam respeitar limites para gorduras trans e saturadas, açúcares adicionados e sódio. O sistema também exigia a presença de algo considerado “positivo”: cálcio, fibras, vitaminas, grãos integrais, frutas, vegetais ou laticínios com pouca gordura. Parece bom, certo? Errado.
A porta estava escancarada. Produtos em 19 categorias de alimentos e bebidas, totalizando centenas de ultraprocessados, receberam o selo, baseado principalmente nas diretrizes alimentares elaboradas pelo Departamento de Agricultura (USDA) e pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos EUA. Assim, até o Froot Loops – um cereal colorido da Kellogg’s que é 40% açúcar – foi admitido. Como vinha “fortificado” com vitaminas, o sistema passou a tratá-lo como mais adequado do que, por exemplo, uma rosquinha de padaria (aquelas que os policiais comem nos filmes).
Governos estaduais se somaram à FDA (Food and Drug Administration, a Anvisa dos EUA) e abriram investigações. Queriam entender se o selo patrocinado pela indústria podia induzir escolhas equivocadas ou mesmo afastar o consumidor da leitura da tabela nutricional. Ante a repercussão negativa, o Smart Choices suspendeu suas atividades apenas dois meses depois do lançamento.
Fato é que ninguém quer ser chamado por esse nome negativo que virou o termo “ultraprocessado”. Mas aparentemente ninguém quer, de verdade, deixar de vendê-los.
Nos EUA e no Reino Unido, eles são maioria no prato. Por aqui, representam quase um quarto (23%) das calorias compradas para consumo doméstico – um salto de 130% em relação a quatro décadas atrás.
Essa expansão não é um efeito colateral. Entre 1962 e 2021, dos US$ 2,9 trilhões distribuídos a acionistas por corporações do setor alimentício, mais da metade (US$ 1,5 trilhão) veio de fabricantes de misturas complexas de novas moléculas, baseadas em novas moléculas usadas como fonte de calorias. Com números assim, alguma reserva diante de compromissos de autorreforma parece prudente.